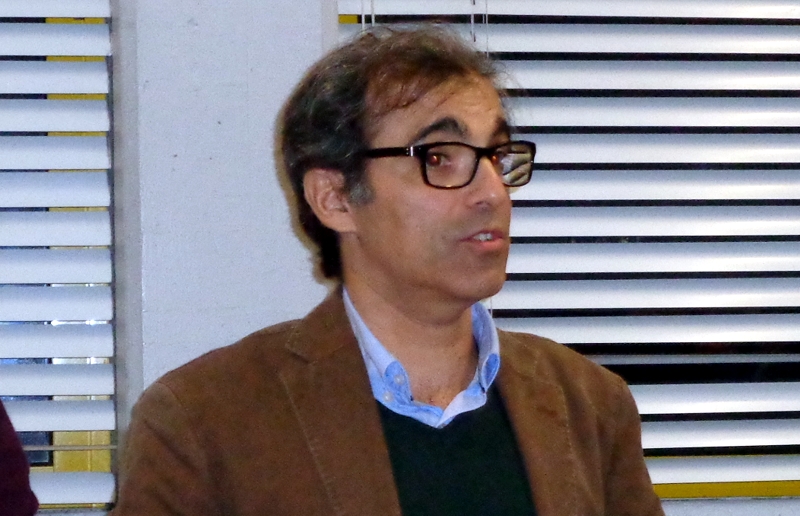(Parte I)
O 25 DE ABRIL DE 1974 foi, segundo o poema imortal de Sophia de Mello Breyner:
«O dia inicial, inteiro e limpo
Onde emergimos da noite e do silêncio
E livres habitamos a substância do tempo».
Na madrugada desse dia, um grupo de militares, de patentes intermédias (sobretudo, capitães e majores), afetos ao Movimento das Forças Armadas (MFA), derrubou 48 anos de autoritarismos militares e civis.
Os revoltosos tomaram os locais estratégicos, em Lisboa e noutras capitais de distrito: Terreiro do Paço, Quartel do Carmo, Assembleia Nacional, Rádio Clube Português, Emissora Nacional, aeroporto da Portela, sede da PIDE/DGS, etc.
Ao longo do dia, o povo saiu à rua para confraternizar com os militares revoltosos, apesar de ter sido aconselhado a permanecer em casa pelo comunicado do MFA, lido pelo jornalista Joaquim Furtado, aos microfones do Rádio Clube Português.
6 dias depois do 25 de Abril, no «Dia do Trabalhador», um mar de gente voltou a sair à rua para festejar e legitimar o golpe de estado do MFA.
No cortejo de 1 de maio de 1974, em Lisboa, terão participado cerca de 1 milhão de pessoas que gritaram, em uníssono, «O povo unido jamais será vencido!». O mesmo ambiente de liberdade e fraternidade foi replicado, nesse dia, no Porto e noutras capitais de distrito.
No dia 25 de Abril, os militares sublevados quase não dispararam tiros: houve «apenas» 6 vítimas: 4 civis, assassinados por agentes da PIDE/DGS, junto à sua sede, na rua António Maria Cardoso; 1 servente desta polícia política e 1 agente da PSP.
Os militares amotinados exibiram cravos vermelhos nos canos das suas armas. Estas imagens de uma revolução serena e poética deram a este golpe um carácter original que foi notado em quase todo o mundo, tornando-o num caso de estudo.
O golpe militar do MFA depôs e exilou o presidente da República, Américo Tomás, e o presidente do Conselho, Marcello Caetano.
Dissolveu a Assembleia Nacional.
Destituiu os governadores civis do continente, os governadores dos distritos autónomos da Madeira e dos Açores e os governadores-gerais das províncias ultramarinas.
E nomeou uma Junta de Salvação Nacional (JSN), presidida pelo general António de Spínola.
O presidente da Junta de Salvação Nacional nomeou um governo provisório civil composto por personalidades representativas de vários grupos e correntes políticas que se identificavam com o programa do MFA.
A Junta de Salvação Nacional, instigada pela Comissão Coordenadora do MFA, ordenou a libertação e amnistia imediata dos presos políticos, permitiu o regresso dos exilados e decretou a extinção dos organismos políticos do Estado Novo: PIDE/DGS, Legião Portuguesa, Mocidade Portuguesa, Ação Nacional Popular, Censura e Exame Prévio, e tribunais especiais.
O programa do MFA reconhecia ainda que a solução das guerras do ultramar era política e não militar. Previa a transição sustentada para um Estado de Direito e uma democracia pluralista, com preocupações sociais e escorada em igualdades e liberdades cívicas e individuais. E defendia a eleição, por sufrágio direto, secreto e universal, de uma Assembleia Constituinte, no prazo de 12 meses, com a missão de elaborar uma nova Constituição.
Por conseguinte, o 25 de Abril de 1974 foi um golpe de estado que evoluiu para uma revolução.
Todavia, nos meses seguintes, as intenções originais deste programa foram contestadas por golpes e contragolpes militares: 28 de Setembro de 1974; 11 de Março de 1975; e 25 de Novembro de 1975.
Os poderes do Estado fragmentaram-se por vários organismos e personalidades militares e civis, que assumiam poderes paralelos.
Quem eram esses organismos e personalidades militares e civis?
O Presidente da República nomeado pela Junta de Salvação Nacional. Primeiro assumiu este cargo o general António de Spínola. Spínola tentou impor, sem sucesso, uma Constituição provisória, procurou antecipar as eleições presidenciais e adiar as eleições para a Assembleia Constituinte, para novembro de 1976. Pretendia, assim, reforçar o seu poder, implantar um regime presidencialista, travar a descolonização e a via para o socialismo. A 28 de setembro de 1974, Spínola solicitou o apoio de setores da direita conservadora e apelou a uma «maioria silenciosa», para reforçar os seus poderes. Porém, foi derrotado e demitiu-se, tendo sido substituído pelo general Francisco da Costa Gomes.
Os sucessivos Governos Provisórios nomeados pelos citados presidentes da República, entre 1974 e 1976 – ao todo 6 governos provisórios presididos, sucessivamente, pelo advogado liberal, Palma Carlos, pelo coronel voluntarioso e radical, Vasco Gonçalves, e pelo impetuoso almirante Pinheiro de Azevedo.
O Conselho da Revolução – criado pelo MFA logo depois da tentativa do golpe engendrado por spinolistas e o ELP, de 11 de Março de 1975, e que viria a fragmentar-se em várias tendências, mantendo enfáticos poderes tutelares, até ser suprimido pela primeira revisão da Constituição, em 1982.
O Comando Operacional do Continente (conhecido como COPCON) – criado para controlar as forças armadas militarizadas, fazer cumprir as orientações do programa do MFA, manter a ordem pública e proteger o novo regime contra eventuais intentonas contrarrevolucionárias. Foi dirigido pelo estratega do 25 de Abril, general graduado Otelo Saraiva de Carvalho, até ser abolido na sequência da intentona de 25 de Novembro de 1975.
Entre abril de 1974 e novembro de 1975, Portugal submergiu num confronto permanente entre organismos constituídos por personalidades militares e civis que representavam diferentes fações ideológicas.
Quem eram essas fações ideológicas?
Uma fação marxista-leninista inspirada nas «democracias populares» da URSS e do leste europeu, que ambicionou coletivizar, estatizar e planificar a economia e centralizar os poderes. Esta fação foi protagonizado pelo PCP e por Vasco Gonçalves.
Uma fação trotskista ou maoista ou castrista, que sonhou com um poder popular, meio castrense e meio proletário, que teria Cuba ou outra utopia distópica terceiro-mundista como referência. Este grupo foi liderado por Otelo e os seus oficiais e militares do COPCON, os comandantes do Ralis e da Polícia Militar, a UDP, o PRP/BR e o PSR.
Um setor mais amplo que combateu por uma democracia pluralista de tendência socialista ou social-democrata à portuguesa. Este setor incluía o PS, PPD e os militares do «Grupo dos 9», liderado por Melo Antunes, que emergiu do Conselho da Revolução.
Uma fação que recusou a implantação de modelos socialistas mais ou menos moderados e bateu-se por uma democracia iliberal ou musculada, ou mesmo por um regresso aos autoritarismos do passado. Refiro-me a Spínola e outros aliados de ocasião, enquadrados por organizações terroristas como o MDLP (Movimento Democrático da Libertação de Portugal), fundado por spinolistas, e o ELP (Exército de Libertação de Portugal), constituído por ex-dirigentes e agentes da PIDE/DGS, antigos elementos da Legião Portuguesa e militares afetos ao Estado Novo.
E ainda um grupúsculo comunista maoista, agitador, provocatório, que execrava o PCP (acusando-o de «social fascista») ainda que também propusesse uma via comunista assente na ditadura do proletariado. Refiro-me ao MRPP.
A 25 de Abril de 1975, as eleições para a Assembleia Constituinte, que tiveram uma taxa mínima de abstenção de apenas 8,5%, deram a vitória ao PS (37,8% dos votos), o segundo lugar ao PPD (com 26,3%), apenas o terceiro lugar ao PCP (12,4%), e sufragaram o parlamento talvez mais qualificado, heterogéneo e inclusivo da III República.
Justamente devido a estes resultados e depois da frustrada intentona contrarrevolucionária de 11 de Março de 1975, tentada por militares spinolistas e o ELP, setores mais esquerdistas ligados aos poderes instituídos radicalizaram as suas posições.
Começou, verdadeiramente, o Processo Revolucionário em Curso (PREC), que se extremou durante o «Verão Quente» de 1975.
Nesses meses, nacionalizaram-se centenas de bancos, seguradoras e empresas (de transportes, siderurgias, hidroelétricas, gás e eletricidade, cimentos, celuloses, tabacos, comunicação social, etc.).
Foram ocupadas, por trabalhadores enquadrados por sindicatos e militares, mais de mil herdades no Ribatejo e Alentejo e depois coletivizadas, no âmbito do movimento da Reforma Agrária.
Foram ocupadas centenas de casas privadas.
A RTP, a Rádio Renascença e vários jornais foram controlados por agitadores afetos às esquerdas radicais e ao PCP, os quais começaram a fazer saneamentos políticos.
Alguns partidos mais radicais, à esquerda e à direita, acusados de obstaculizar de modo violento o avanço do PREC, foram ilegalizados (PDC, MRPP e AOC).
O COPCON procedeu a prisões indiscriminadas. Soldados das várias forças militares desrespeitaram, ostensivamente, as ordens hierárquicas e desviaram armas para as mãos de populares afetos à esquerda e à direita do espectro político nacional.
A Embaixada da Espanha franquista foi atacada e pilhada por militantes da extrema-esquerda, perante a passividade de polícias e militares.
Operários da construção civil em greve sitiaram S. Bento e a Assembleia Constituinte, sequestrando o primeiro-ministro do VI Governo Provisório, almirante Pinheiro de Azevedo, e os deputados.
Nesse momento, o Governo, presidido por Pinheiro de Azevedo, decidiu entrar em greve, enquanto as forças policiais e militares não garantissem as condições normais para o seu funcionamento.
A economia do país colapsou. A taxa de inflação alcançou cifras históricas agravadas pela subida brusca do preço do petróleo, o qual atingiu o mundo, entre 1973 e 1979, e pôs fim a «Trinta Gloriosos» anos de acentuado crescimento económico vividos na Europa ocidental, desde o pós II Guerra Mundial.
No «Verão Quente» de 1975, Vasco Gonçalves e Álvaro Cunhal proclamavam que a dinâmica revolucionária tinha ultrapassado a legitimidade eleitoral.
O primeiro-Ministro Vasco Gonçalves argumentou, em Lisboa e em Almada, que «só há duas posições: ou estamos na revolução ou estamos contra a revolução» e que o país «não pode perder pela via eleitoral aquilo que tanto tem custado a ganhar ao povo português».
E o secretário-geral do PCP, Álvaro Cunhal, numa entrevista concedida à jornalista antifascista italiana, Oriana Falacci, em junho de 1975, corroborou a mesma tese: «as eleições pouco ou nada têm a ver com a dinâmica revolucionária. […] Portugal já não tem qualquer hipótese de estabelecer uma democracia ao estilo da Europa ocidental. […] Portugal não será um país com as liberdades democráticas e os monopólios. Não será companheiro de viagem das democracias burguesas».
O país bipolarizou-se, dividiu-se em norte e sul, tendo-se estabelecido uma fronteira fictícia em Rio Maior, e ficou à beira de uma guerra civil.
O sul era controlado pelo PCP e as forças radicais de esquerda. No norte, dominado pelo PS, PPD, CDS, a Igreja Católica, mas também por grupos de extrema-direita, várias sedes do PCP foram assaltadas, incendiadas, destruídas e alguns dos seus militantes espancados e assassinados.
Esperava-se, então, a todo o momento, uma revolta armada.
A 25 de Novembro de 1975, paraquedistas afetos às esquerdas radicais (que incluíam o MES, PRP/BR, UDP e FSP) ou próximos do PCP, indignados com a iminente passagem à reserva de muitos colegas, com a alegada substituição de alguns comandantes militares e a extinção da Base Escola de Paraquedistas de Tancos, tomaram as bases aéreas de Tancos, Monte Real, Montijo, Ota e Cortegaça.
Outras forças rebeldes do COPCON, Ralis e da Polícia Militar assumiram posições estratégicas em Lisboa (ocuparam estradas, aeroporto, depósito de armas de Beirolas, Emissora Nacional, RTP e Monsanto).
Nesse momento, o presidente da República, Costa Gomes, saiu, finalmente, do estado de aparente torpor e ambiguidade em que se encontrava. Decretou o «Estado de sítio» enquanto unidades militares disciplinadas lideradas por Ramalho Eanes e Jaime Neves conseguiram anular os revoltosos e prender as chefias dos militares sublevados.
A revolta dos militares radicais foi vencida porque, no momento decisivo, não contou com o apoio do PCP, o qual não confiou no espírito libertário de muitos dos revoltosos e terá recebido do presidente da República, Costa Gomes, a garantia de que não seria ilegalizado. A revolta também não contou com Otelo, que acabou por rejeitar assumir o papel de putativo líder da insurreição.
No dia 26 de novembro, o processo revolucionário começou a esvaziar-se. A revolução retomou a essência do seu «dia inicial» vertida no programa original do MFA.
Desde então, emergiram múltiplas versões sobre o 25 de Novembro de 1975.
Álvaro Cunhal sustentou que o 25 de Novembro foi um «golpe militar contrarrevolucionário realizado por um vastíssimo e heterogéneo leque de alianças, que incluíam fascistas e várias forças da direita, que tinham como objetivo ilegalizar e reprimir violentamente o PCP, o movimento sindical e a esquerda militar».
Pelo contrário, Mário Soares considerou que o 25 de Novembro foi uma tentativa de golpe, animado pela esquerda militar e pelo PCP. Representou «um ponto de viragem que marcou […] o fim da desfilada em que estávamos a correr para o abismo. Foi um recomeço; um regresso à pureza inicial do 25 de Abril. Um rasgar de novos horizontes de esperança, com a consolidação da democracia pluralista, num ambiente político de convivência cívica, de alguma paz social e de concórdia nacional».
Maria Inácia Rezola – historiadora com importante obra publicada sobre o Revolução e atual Comissária das Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril – reconheceu que o 25 de Novembro de 1975 foi essencial para acelerar a consolidar a democracia.
(Parte II)
Feita esta sinopse histórica dos acontecimentos, importa, aqui e agora, enfatizar que a revolução do 25 de Abril de 1974 abriu caminho a diversas conquistas.
Quais foram essas conquistas?
Universalidade e igualdade de direitos e deveres de todos os cidadãos; liberdade de expressão, de associação e de participação na vida pública; pluripartidarismo e sufrágio universal; criação do poder local e das regiões autónomas da Madeira e dos Açores; Serviço Nacional de Saúde tendencialmente gratuito; democratização da educação; democratização do acesso dos cidadãos à justiça e do funcionamento da justiça; acesso ao emprego, direito ao trabalho e à greve e liberdade sindical; salário mínimo nacional e subsídio de emprego; direito a férias com pagamento de respetivo subsídio; licença de maternidade; redução do horário de trabalho; fim da guerra colonial e o reconhecimento da independência da Guiné-Bissau, de Angola e de Moçambique; adesão à União Europeia; direitos igualitários e paritários para as mulheres: voto universal, direitos iguais no seio da família, acesso à magistratura judicial, aos cargos de diplomacia e de juíza, fim da proibição do divórcio para os cônjuges casados pela igreja, etc.
Nos últimos 50 anos, o país modernizou-se e aproximou-se dos países europeus mais desenvolvidos. Melhorou as suas infraestruturas e acessibilidades. Reduziu o analfabetismo para números residuais. Edificou um serviço de saúde pública. Aumentou a esperança média de vida dos seus habitantes. Multiplicou escolas e universidades. Construiu centros culturais e bibliotecas. Ampliou as habilitações académicas superiores dos seus cidadãos. Organizou eventos culturais e desportivos de dimensão europeia e mundial. Vários programas europeus de intercâmbio tornaram os nossos jovens académicos mais qualificados e cosmopolitas. Portugal tornou-se um exportador de cérebros para os países mais desenvolvido do mundo. Simultaneamente, tornámo-nos um país recetor de imigrantes com baixas habilitações, que, todavia, garantem a atividade dos setores da restauração, hotelaria, agricultura e construção civil. Estes imigrantes ajudam também a mitigar o nosso envelhecimento demográfico e a garantir a sustentabilidade da segurança social.
Muitas reformas foram realizadas. Mas, evidentemente, há ainda muito a fazer, porque Portugal e o resto do mundo estão em constante mudança e a democracia é um sistema político imperfeito e nunca concluído.
Como escreveu e cantou Sérgio Godinho: «só há liberdade a sério quando houver a paz, o pão, habitação, saúde, educação» para todos.
Hoje, muitas críticas – mais ou menos justas e consistentes – são dirigidas à III República, que chegou a uma encruzilhada. E, por isso, precisa de ser repensada, reformada e aprofundada.
Mas há também por aí um grupo de cidadãos que, perante estas dificuldades, decidiu ignorar a história, falsificar a memória e anseia pelo regresso de um novo messias, de um novo ditador. Um inquérito do ICS e ISCTE divulgado pelo jornal Expresso, a 19 de abril de 2024, indicou que 43% dos inquiridos preferiram um líder forte que não tenha que se preocupar com o parlamento nem com eleições. E 54% desses inquiridos consideraram que se os políticos portugueses seguissem os ideais de Salazar, Portugal reconquistaria a sua grandeza!
Quais as críticas mais comuns dirigidas, hoje, à III República?
O afastamento dos partidos dos cidadãos e da sociedade. Um parlamento com deficiências na sua capacidade de representação da sociedade. Um sistema eleitoral desatualizado e enviesado — assente no método de Hondt e em 22 círculos eleitorais cada vez mais desproporcionais. Nas últimas eleições, este anacrónico sistema eleitoral desperdiçou mais de 1 milhão de votos, que não foram convertidos em mandatos. Uma cultura da cunha e do compadrio. Um sistema económico demasiado estatista ou, pelo contrário, excessivamente liberal. A captura do Estado por interesses privados e corporativos. Uma justiça arrogante e disfuncional. O trabalho jovem precário e mal pago. Um serviço nacional de saúde doente, que não soube ou não pode modernizar-se para enfrentar desafios como o envelhecimento da população, o despovoamento de grande parte do território nacional, a concentração demográfica nas maiores cidades do litoral, ou ainda a concorrência de clínicas e hospitais privados. Uma escola pública com professores envelhecidos e esgotados. Professores que perderam autonomia e autoridade e estão prisioneiros de políticas educativas tecnocráticas que promovem uma falsa ideia de inclusão e sucesso educativo através de obscenos trâmites burocráticos.
Uma trágica conjuntura internacional favorável à escalada dos populismos e das guerras. E uma sociedade endrominada pela internet, os telemóveis, as redes sociais e por muitos media néscios, que promovem o entretenimento acéfalo, a crítica gratuita, as fake news, o ódio e a tribalização.
Por razões diversas onde a classe política também não pode ser isenta de culpas, emergiu no país uma «extrema-direita» (inspirada em Marine Le Pen, Salvini, Orbán, Trump, Bolsonaro e quejandos) que renega, de modo cada vez menos críptico, as democracias pluralistas, o regime democrático fundado em Portugal pela Constituição de 1976.
O alegado agregador desse movimento é, hoje, acolitado por um grupo de deputados com telhados de vidro e esqueletos nos seus armários. Vários deles são dissidentes dos mais diversos partidos do espectro nacional (do PSD, CDS, PS, PAN e IL). Entre eles, existem ex-pastores evangélicos, católicos ultraconservadores, fomentadores de teorias da conspiração, saudosistas do salazarismo, devedores ao fisco, empresários falidos, uma embaixadora da Bimby e brasileiros bolsonaristas nacionalizados.
Acusam os partidos tradicionais de promoverem a incompetência, a corrupção, o clientelismo, o nepotismo, a ideologia de género e o comunismo.
Como se as estas primeiras quatro acusações não existissem em doses colossais e insuportáveis nos regimes autoritários ou nas atuais «democracias iliberais» (veja-se os casos recentes de Trump nos EUA, de Bolsonaro no Brasil, de Orbán na Hungria, ou de Putin na Rússia).
Como se muito mais do que isto não tivesse persistido durante o Estado Novo de Salazar e Caetano.
Recorde-se, no Estado Novo, o escândalo sexual do Ballet Rose (esquema de pedofilia, prostituição e abuso de menores que envolvia altas figuras do Estado Novo e que foi encoberto pelo regime, mas denunciado na imprensa britânica, em 1967); o assassinato do general Humberto Delgado (1965) e de outros oposicionistas por agentes de Salazar; o tráfico de influências para obter cargos e benefícios nos setores público e privado – uma rede confidencial de cunhas e favores urdidos entre Salazar e as elites das hierarquias do Estado e da Igreja; a monopolização do Estado por certos grupos económicos; a ação aterrorizadora da PIDE/DGS e dos seus informadores; as arbitrariedades dos tribunais especiais, com os seus juízes corruptos e manipuláveis; a chantagem, as prisões sem culpa formada, as torturas e as exonerações por motivos políticos; as eleições fraudulentas; as mulheres submissas, violentadas e amordaçadas pelos maridos adúlteros no seio das «famílias tradicionais»; a repressão, condenação e escárnio hipócrita da homossexualidade; o desprezo pela democratização da educação; o desinvestimento na melhoria das condições de vida das populações; a eternização da guerra colonial, que destruiu as vidas de muitos jovens, isolou Portugal da Europa e do mundo e inviabilizou o seu crescimento; a imposição do pensamento único, da censura e da doutrinação da educação, que mistificava a realidade e inculcava nos portugueses a ilusão de viverem num oásis de paz e prosperidade.
Quem quer retornar a um Portugal autoritário, obscuro e tenebroso?
O regresso a uma versão reciclada do populismo, xenófobo e ambiguamente neoliberal e eurocético significará sempre o retorno a um país autoritário, dissimulado, amordaçado, oprimido, isolado, retrógrado e ainda mais pobre, corrupto e desigual.
«O nacionalismo é a guerra» – como alguns políticos, historiadores, filósofos e outros intelectuais velhos e novos têm vindo a enfatizar.
Hoje, a Constituição de 1976, graças às suas sucessivas revisões, é suficientemente flexível, permitindo aos políticos e aos partidos fazerem os ajustamentos necessários do sistema político e por essa via regenerar a democracia.
Uma coisa é certa: quanto mais baixo descer o atual regime e mais desprezar a questão social, mais a extrema-direita tem razões para propagar o seu carnaval.
Se a esquerda e a direita moderadas, mas também os partidos mais à esquerda – que, durante o período da «gerigonça», deram provas de moderação, diálogo, preocupações sociais e apreço pelos interesses nacionais – não souberem comportar-se.
Se continuarem fechados nas suas bolhas, enclausurados nos seus estratégicos interesses partidários, e não perscrutarem a sociedade civil, a extrema-direita agradece.
E se a extrema-direita continuar a crescer, os problemas diagnosticados, hoje, ao regime democrático irão agravar-se. A III República vai acelerar o seu processo degenerativo e fluir para um regime autoritário, demogógico e confrontativo como aconteceu nos EUA de Trump e no Brasil de Bolsonaro, e acontece agora na Hungria de Viktor Orbán.
Pela minha parte, amo a liberdade e a democracia social que só as sociedades abertas podem proporcionar. Por isso, sentirei uma profunda tristeza se, um dia, vir a minha filha soçobrar num mundo marcado pelo ódio, o egoísmo e a intolerância, pelo autoritarismo e pela guerra. Seria excruciante imaginar a minha filha e os jovens da sua geração a sobreviverem, como súbditos, no interior dos mundos distópicos imaginadas pelos escritores Aldous Huxley, Orwell, Ray Bradbury, Margaret Atwood ou Cormac McCarthy.
Iniciei este texto com o poema radioso de Sophia de Melo Breyner.
Termino com a última estrofe de um poema popular e igualmente esperançoso e combativo cantado por Ermelinda Duarte, em 1974.
Essa estrofe versa assim:
«Somos um povo que cerra fileiras,
parte à conquista
do pão e da paz.
Somos livres, somos livres,
não voltaremos atrás».
Luís Filipe Torgal
Bibliografia: Avillez, Maria João, Soares, três volumes, Círculo de Leitores, 1996; Avillez, Maria João, Do fundo da Revolução, Público, 1994; Medeiros Ferreira, José, A Revolução do 25 de Abril. Ensaio histórico, Shantarin, 2023; Monteiro, João Gouveia, (coordenação científica), 50 anos depois do 25 de Abril, Manuscrito Editora, 2024; Oliveira, César, Os anos decisivos: Portugal 1962-1985. Um testemunho, Lisboa, Editorial Presença, 1993; Oriana Fallaci, «Entrevista a Álvaro Cunhal», in Grandes Entrevistas da História, Expresso, 2014; Pimentel, Irene Flunser, Do 25 de Abril e 1974 ao 25 de Novembro de 1975, Temas e Debates, 2024; Rezola, Maria Inácia, 25 de Abril – Mitos da Revolução, Lisboa, Esfera dos Livros, 2007; Rosas, Fernando, Ensaios de Abril, Tinta da China, 2024; Rui Ramos (coordenador), História de Portugal, Esfera dos Livros, 2012.